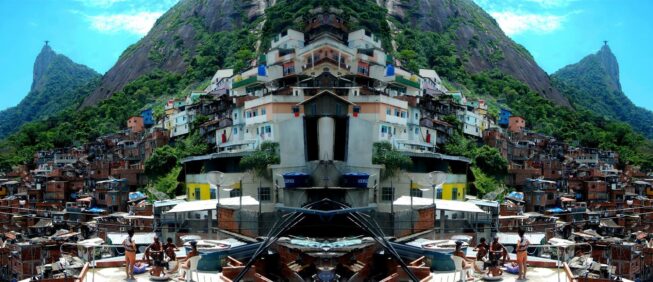Rememória Kariri: uma flecha para iluminar o coração
Mergulho nas memórias familiares de autorreconhecimento como Kariri, nação que habita da Bahia ao Piauí
Raquel Paris
| Brasil |
11 de agosto de 2020

Salve as caboclas da mata!
Salve Iracema! Salve Jurema!
Salve as caboclas da mata Iara, Jussara, Jupira e Jandira!
Ponto das caboclas - Camila Costa
Vasculhar o passado tem sido como montar um álbum de figurinhas tal como de costume quando criança. Sempre uma, duas ou três faltavam; outras, muito raras e únicas, nunca conseguia encontrar e ali ficava um vazio em branco quando passava as páginas. Nem por isso deixava de seguir, abrindo mais um álbum, reunindo mais recordações.
Nasci cratense. Meu pai se chama Francisco Alves Rocha e minha mãe Terezinha Arraes Alves Rocha. Tenho orgulho em dizer que o Araripe me atravessa em suas faces cearense e pernambucana. Outro orgulho, e esse transcendental, é ser uma uma mulher semiárida. Muitos anos depois, como sinal de carinho de amigos muito queridos, recebi o Paris, meu nome social, mas isso já é outra história.
Por todo Semiárido brasileiro povos indígenas reivindicam sua existência frente a um projeto sistemático de apagamento
Nascer nos anos 1980 na cidade do Crato representava aprender três coisas fundamentais: Primeiro, que deveríamos evitar ter muita aproximação com o povo e a cidade de Juazeiro do Norte, afinal, era de conhecimento, que o Juazeiro era terra de gente ignorante e, o Crato, de ilustrados.
Segundo, que nessa terra não havia indígenas. Isso era uma história muito antiga, de um povo chamado Kariri que havia habitado essas terras e que tinha sido morto com as invasões do território. Águas passadas. Por último, não menos importante, que embaixo da Igreja da Sé tem uma baleia.
Hoje contemplo como a estratégia de apagamento da colonialidade funciona de Bangladesh ao Crato. Genocidar a população originária, tecer as narrativas e estratégias de assimilação para decretar seu desaparecimento corporal e simbólico, afinal, morto não reivindica terra. Acredito que quem me salvou do apagamento foi a força, a energia emanada pela Chapada do Araripe, bússola orientadora de afeto e espiritualidade que carrego no peito e o Campo Alegre, sítio no pé da serra que passei toda minha infância e juventude. Lugar onde aprendi a respeitar a caatinga, conviver com a seca e festejar a chuva.
Me farejei Kariri há pouco. Tive pela frente muitos anos em que me perguntava a quem se filiava esse rosto, essa tonalidade de pele, meus cabelos espessos. Onde estariam as mulheres que se pareciam comigo? Onde estariam as mulheres que pensavam e sentiam como eu?
Devagar e de forma muito intuitiva fui fazendo perguntas a mim e a todos ao meu redor. Com minha família não consegui ir muito longe. Infelizmente, os mais velhos, como avôs, avós e tias, já se foram. Compreendi que essa busca não se daria apenas por um viés historiográfico, não depois desse grande incêndio devorador de memórias. Precisava confiar em minha intuição, precisa aprender a ser uma leitora... de silêncios, de não-ditos e de figurinhas faltantes.
Assim, primeiro me deixei demorar frente ao espelho, adquirindo coragem e buscando a dignidade que me foi negada. Coragem para acreditar no que a ancestralidade narrava através do meu rosto e pele. Depois, contemplei minha vida, minhas próprias lembranças e o que vi foram irmãos indo caçar na serra, uma família que no tempo das chuvas produzia muitos dos seus alimentos, que se organiza de forma matriarcal e é devotada à natureza e à sua proteção.
Outro elemento é muito sintomático: as estratégias de silenciamento interno, como conta minha mãe, a respeito das minhas tias mais velhas: “As coisas aconteciam e se calava”. Deve ser por isso que quando minha tia Cezídia me contou a origem da família, brotou um ancestral que era denominado apenas de “um moreno”, um homem sem nome e sem face que surge como nuvem nas narrativas da família.
Essas informações enviesadas, soltas, ditas de forma desimportante emergem para mim como um símbolo do apagamento sofrida por diversas famílias Kariris, principalmente as que permaneceram nas franjas da cidade. Famílias que, devido à pobreza compulsória, muitas vezes utilizavam da negação para diminuir o peso do preconceito e possibilitar uma vida menos sofrida.
Minha tia Cezídia e suas irmãs Cecília e Isabel nasceram e moraram por toda vida na cidade do Crato. Primeiro moraram na rua Pedra Lavrada, hoje Pedro II. A Pedra Lavrada tinha esse nome por que ficava às margens do rio Granjeiro, hoje aviltado e transformado em canal de esgoto. Depois foram morar no que hoje é a rua Nelson Alencar, mas que naquela época era o limite da cidade, tanto que o cemitério avizinhava. Eram minhas tias que costumavam, como conta meu pai, receber bandas cabaçais em sua casa, que tinham as plantas e a religiosidade como companheira, que costumavam me sentar no chão e me alimentar com as mãos. Tia Cecília. e seu cachimbo.
Reunir essas memórias outras não foi fácil. Tive que desenvolver familiaridade com conceitos e palavras que mais parecem um trava-língua: “epistemicídio”, “etnocídio”, embora sem eles nunca entenderia como a colonialidade é uma máquina de triturar gentes e identidades. Entendo também que por habitar um corpo feminino, atravessado por machismo, racismo, patriarcado, o nível de insegurança pode ser paralisante nesse processo. Houve muito choro. Me perguntava se não estava imaginando, inventando tudo isso. Fiz perguntas duras: será que em minha necessidade de acolhimento não estava forçando uma ancestralidade? Aconteceu muitas vezes. Mas como me disse um bom amigo: não há como passar por esse processo sem lágrimas. É duro mas, quando, por fim, nos coroamos; quando, por fim, nos permitimos incorporar nossa dignidade e anunciar nossa ancestralidade e sermos acolhidas em nossa humanidade e singularidade, é mesmo uma cura. Um renascimento.
Cada uma, um vai ter seu processo. Vai usar de suas habilidades, sagacidade. O mais importante, a meu ver, é colocar em xeque o olhar separativo da colonialidade que tem a ousadia de classificar, determinar “verdadeiros” indígenas. Afinal, se nos aprofundarmos em como se deu o processo de invasão e ocupação do Semiárido brasileiro, levando em conta o projeto de genocídio e assimilação de sua população originária, muitas chaves de percepção começam a brotar para nós.
Perguntas como: Quem compõe a matriz étnica do Semiárido? De onde vem aqueles que chamamos de caboclos, sertanejos, vaqueiros, beatas, parteiras, rezadeiras, aquelas e aqueles que amargaram a pobreza compulsória nas periferias das cidades? Nossa cultura caririense e suas especificidades descende de quem?
A história do Semiárido e de seus povos originários ainda está por ser contada. São centenas de anos de apagamento e negações. Mas, por todo esse território, parentes interromperam o silêncio e reivindicaram a fala. Dona Tereza Kariri deu seu grito de independência ainda na década de 1980 e com ela veio um cordão inteiro de Kariris, Potiguaras, Tabajaras. Sou nova nessa jornada e te convido a fazer parte desse cordão, afinal, não desaparecemos, sempre estivemos aqui e só estamos (re)começando.

Raquel Paris | Brasil |
Jornalista e Coordenadora de Comunicação da UNIperiferias
raquel.paris@imja.org.br