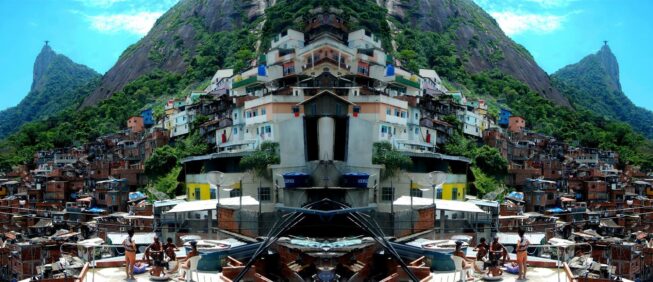Dessas coisas que nossas mães não ousam falar
Laurence Gnaro
| Togo |
11 de agosto de 2020
traduzido por Gabriela de Sousa Nunes
Minha mãe tinha me ensinado como limpar essa minha parte, sem tomar o cuidado de me explicar o seu funcionamento. Essa parte cujo nome eu não tinha nem o direito de pronunciar. Então, acabei me dedicando a uma busca por respostas às inúmeras perguntas que afligiam minha mente de menina, junto à rouxinol. Ninguém sabia qual nome dar à voluptuosa dama que tinha se instalado no único “quarto e sala” do nosso pátio comum. Aí o meu irmão mais velho, Yaya, decretou um dia que ela se chamaria “rouxinol”. Eu o atormentei praticamente dia e noite para que me explicasse o porquê desse apelido, mas ele sempre respondia que eu era muito jovem para entender. Era sempre esse o problema comigo. Eu era muito jovem para me confessarem as coisas, muito jovem para participar das conversas, muito jovem para que a minha opinião fosse levada em conta. Eu tinha que esperar ainda alguns anos. Só que em alguns anos, bom, a situação não terá mudado nada.
Parece que a rouxinol, antes de se mudar para o nosso pátio, morava em um grande duplex na residência do Benim, uma das residências mais chiques da capital. E ela tinha carro e motorista. Todo mundo da casa passava o tempo falando dela. A rouxinol era o assunto favorito das nossas mães ao meio-dia. Não podendo resistir ao calor escaldante dos quartos, elas espalhavam suas esteiras debaixo da mangueira, no pátio, e colocavam-se a descascar os amendoins para a refeição da noite. Elas disparavam risadas por todos os lados assim que a percebiam. Eu, particularmente, apreciava a rouxinol, mas evitava dizer isso em voz alta por medo de atiçar a cólera da minha mãe e atrair as recriminações das vizinhas.
“Walayi1 NT: “Eu juro por Deus”, corruptela da expressão em árabe Walahi (Eu juro por Alá)., ele morreu feliz, pelo menos! Muitos matariam para ter essa sorte”, exclamou Zina, que puxava a torto e a direito o cabelo da filha, na esperança de fazer um penteado que se passasse por qualquer coisa aceitável. Minha mãe a olhava silenciosamente e quando finalmente abriu a boca para falar foi com um tom estarrecido. “Você tá falando que ele morreu feliz?” “Sim”, respondeu Zina, que não tinha reparado no olhar sombrio que minha mãe lançava sobre ela naquele instante. Acho que o que minha mãe tentava explicar para a Zina era que uma morte continuava sendo uma morte, feliz ou não. Não tinha porque anunciá-la aos quatro ventos ou invejar o defunto. Eu não sei se foi por causa dessa pessoa que estava morta feliz ou por outro assunto, mas uma coisa é certa, minha mãe se distanciou a partir daquele dia. Como sei disso? Bom, é porque naquela noite, mamãe não se ofereceu para dividir com a Zina e seu bando de filhos o nosso jantar, como era de costume. Nem nessa noite, nem nas noites que se seguiram.
Com doze anos eu mal tinha começado a buscar os meus traços, a forjar minha personalidade, mas já sabia com quem não queria me parecer. Eu não queria me parecer com a minha mãe, que sempre ostentava um ar de tristeza e roupas com cores sem graça. Eu também não queria me parecer com as nossas vizinhas, que passavam o tempo todo lavando, limpando e gritando com os seus meninos. Além disso, eu sabia com quem queria me parecer. Eu queria me parecer com a rouxinol. A única que aos meus olhos incarnava a feminilidade. Era uma mulher fina com grandes olhos. Ela estava sempre aprontada, sempre vestida com tecidos de cores vivas, que lembravam que a vida merecia ser vivida. Ela tinha um penteado novo a cada semana, da mesma forma como mudava de namorado. Ela sabia que estava no centro das fofocas do bairro, mas as aceitava, e eu achava essa atitude prodigiosa.
Fora as meninas da minha idade, eu não tinha o direito de conviver nem com meninos do bairro nem com meninas mais velhas do que eu. Era um preceito da minha mãe. Eu sempre fiz tudo o que a minha mãe queria, mas sentia que a rouxinol tinha alguma coisa para me ensinar. Eu sentia que havia entre mim e ela uma espécie de amizade tácita. Eu via os sorrisos com que ela me recompensava todas as vezes que lhe dizia um bom-dia ou as piscadelas que me dava, quando percebia que eu a observava intensamente. Assim, pouco a pouco, me aproximei da minha mais nova melhor-amiga sem que ninguém soubesse. Eu lhe oferecia ajuda em pequenas tarefas, na ausência da minha mãe e quando estava protegida dos olhares indiscretos das vizinhas. Acontecia de eu entrar de fininho na sua sala, só para vê-la fazendo as unhas ou aplicando seus tratamentos capilares. Eu considerava cada um desses momentos sagrados porque finalmente aprendia como se tornar mulher. Uma vez, ousei perguntar-lhe se sabia dos rumores que circulavam a seu respeito. Ela fixou o olhar sobre mim por um instante. Depois pediu que eu me aproximasse. Obedeci docilmente e sentei-me no espaço que ela tinha aberto para mim ao seu lado: “Sabe de uma coisa? A mulher foi dotada com um poder imenso e esse poder se encontra aí”, e o “aí”, que ela me mostrava, estava abaixo da minha barriga. Depois de inspirar profundamente, ela retomou “nesse momento, você é uma lagarta, chegará o dia em que você se tornará uma bela borboleta e, a partir daí, a fonte do seu poder estará pronta para ser explorada. Eu me dou conta disso; e é por isso que todas essas mulheres amargas falam mal de mim”. Eu me lembro que respondi “me ensina agora como usar o meu poder”, mas ela balançou a cabeça rindo e me propôs que fôssemos com calma. Foi assim que começou o meu aprendizado na arte de ser mulher. Quando estava bem-humorada, minha amiga me contava sobre suas proezas junto aos homens, as coisas que conseguia obter apenas usando o seu poder. Todas essas histórias aumentavam a minha curiosidade. Então, numa noite, decidi ver mais de perto como era essa minha parte completamente ignorada por mim.
Agachada no nosso quarto, no meio das roupas e das panelas, com meu vestido puxado até a cintura e a calcinha descida até o tornozelo, segurei o pedaço de espelho da minha mãe. Eu o aproximava o máximo possível entre as minhas coxas, buscando desesperadamente uma boa posição para explorar melhor essa caverna de Ali Babá que a rouxinol tinha tanto me falado, quando a porta se abriu subitamente. A expressão da minha mãe era de surpresa ou de cólera? Eu não saberia dizer.
O meu coração disparou quando fui pega com a boca na botija ou, devo dizer, com as mãos entre as pernas. Minha mãe me puxou pelos cabelos até o pátio sem se importar com minhas súplicas. Ela pegou a primeira coisa que viu pela frente, uma espátula. Ela me surrava repetindo “foi assim que eu te criei? Quem te ensinou essas coisas? Você quer estragar a sua vida? Você quer acabar como eu, em um pátio comum, com dois filhos sem pai?” As coisas não melhoraram para o meu lado, quando Yaya meteu o bedelho dizendo para a minha mãe que tinha me surpreendido várias vezes saindo do quarto da rouxinol. Nessa hora, eu percebi que tinha acabado de levar problemas para a minha melhor amiga. Eu gritei e gritei. Eu supliquei para que ela parasse, mas ela não quis. Ela me bateu até o retorno da nossa vizinha Zina, que ao invés de me tirar das garras da minha mãe, se apressou em trazer pimenta em pó, que elas salpicaram nas minhas partes íntimas. Agachada a um canto, eu não conseguia nem mais chorar. Eu só pensava em uma coisa: fugir para bem longe desse pátio desgraçado.
Na época, quando minha mãe me surpreendeu, me perdi em desculpas como se reconhecesse minha culpa. Acredito que se a mesma cena se reproduzisse hoje, eu bateria de frente com a minha mãe e responderia “chega de tabus, eu quero falar sobre isso!”

Laurence Gnaro | Togo |
Autora, escritora e blogueira togolesa. Participou do primeiro projeto de ficções da Afro Young Adult cuja antologia, Water Birds on the Lakeshore, apareceu em três idiomas, em três países diferentes. Laurence Gnaro foi agraciada pelos seus trabalhos por, entre outros, Le Corset, no concurso internacional da associação La Méridienne du Monde Rural. Trabalha em diversos projetos de escrita.