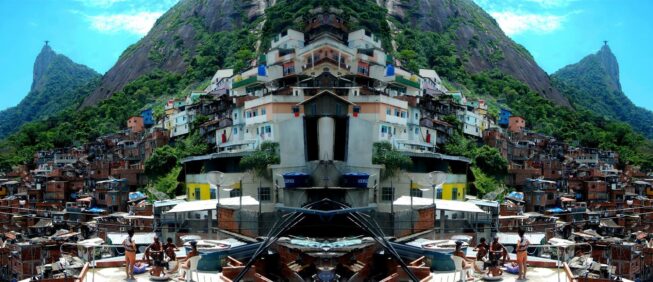"Por um mundo sem prisões" — entrevistas com militantes da Frente pelo Desencarceramento do Paraná
A importância dos movimentos coletivos no cotidiano da luta pelo desencarceramento
por Layra Rodrigues e Jhey Rodrigues
| Brasil |
julho de 2022
A realidade do sistema carcerário é conhecida também por ser menos uma falha na gestão do que constitutiva do seu caráter. As realidades e o caráter dos movimentos que a enfrentam, nem tanto. É uma perspectiva dessas realidades que procuravam Layra Rodrigues e Jhey Rodrigues, alunas participantes do projeto Direito à Poesia, da Universidade Federal da Integração, nas entrevistas que conduziram durante o I Encontro Estadual da Frente pelo Desencarceramento do Paraná.
O evento é, entre outras coisas, uma celebração dos esforços que resultaram na criação da Frente pelo Desencarceramento do Paraná, que segue na esteira de inúmeras outras frentes estaduais inspiradas pela publicação da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, em 2013. A reversão do encarceramento em massa, eixo que orienta as dez diretrizes que compõem a Agenda, é também o horizonte em que miram os coletivos e iniciativas anti-cárcere que ocuparam esse espaço de articulação entre 26 de março e 22 de abril de 2022.
Ao longo dessas quatro semanas, Layra e Jhey ouviram Lucas Duarte, coordenador da Pastoral Carcerária de Curitiba, militante da Frente pelo Desencarceramento do Paraná e um dos organizadores do encontro; Márcia Tillmann, merendeira, membro do Coletivo de Familiares e Amigos de Pessoas Presas de Foz do Iguaçu e Região, egressa do sistema prisional e familiar de pessoa privada de liberdade; e Raissa Melo, jornalista, militante da Frente pelo Desencarceramento do Paraná e uma das organizadoras do encontro, também egressa do sistema prisional. Os três compartilharam, nas entrevistas a seguir, tanto porções da história coletiva dos movimentos de que participam quanto da própria história de cada um dentro desses movimentos.
entrevista com Lucas Duarte, coordenador da Pastoral Carcerária de Curitiba
Como surgiu a frente pelo desencarceramento? O que tem sido alcançado a partir dessa articulação?
A Frente do Paraná é uma construção recente. Talvez, para falar dela, seja preciso falar da Agenda Nacional Pelo Desencarceramento, que vem sendo articulada pelo menos desde 2013, a partir da Pastoral Carcerária e de movimentos como as Mães de Maio.
Não se trata apenas de falar que precisa haver educação, mas diagnosticar, e, com o diagnóstico de que a prisão é um mal inútil, um sofrimento inútil, pensamos em dez ações que poderiam mitigar esse sofrimento e, quem sabe, estrangulá-lo.
A partir da Agenda, as organizações que a compunham começam a perceber a importância de também se organizar nos territórios — estados, cidades, bairros — em que atuam. Surgem, então, as Frentes pelo Desencarceramento, primeiro no Rio de Janeiro, depois, em São Paulo, Minas Gerais. Na construção da Frente, várias organizações que já atuam com os Direitos Humanos vão se alinhando e somando forças: a universidade, a defensoria, os movimentos de igreja, as pastorais, os movimentos de familiares e pessoas presas.
Durante a pandemia, construímos a Frente Pelo Desencarceramento no Paraná, começando com os familiares. O lançamento dessa agenda, em 02 de outubro de 2020, aconteceu em um dia simbólico, que marca o massacre do Carandiru, onde pelo menos 111 pessoas foram mortas pelo Estado.
Mesmo com o impedimento de acessar o sistema, a informação, os próprios familiares entenderam que era preciso se organizar de alguma forma. Só então é que a pastoral, como é próprio da nossa atividade de apoio às organizações populares, mostrou o que vinha sendo construído nas outras frentes. E várias pessoas começaram a se juntar a nós. O maior ganho nisso foi o protagonismo dos familiares em elaborar denúncias e dialogar com as autoridades. Nós tentamos criar isso: ninguém representa ninguém nesse espaço, cada coletivo precisa se organizar para explicar suas demandas e exigir soluções.
Ninguém representa ninguém nesse espaço, cada coletivo precisa se organizar para explicar suas demandas e exigir soluções
Talvez a gente chegou nesse estado de coisas agora por conta de políticas paternalistas, em que a ideia é não fazer com, é fazer para. O padre Júlio, de São Paulo, insiste muito que não podemos trabalhar para as famílias, para os presos. A gente trabalha com, construindo junto, partilhando. É um projeto mais lento, demorado, ainda mais que na pandemia a gente estava na impossibilidade de ter uma presença "cara a cara".
Na presença a gente consegue construir coisas mais profundas. Mas precisamos entender o tempo das pessoas e da política também. As vezes é uma coisa emergencial, que a gente não consegue estancar, porque não temos musculatura suficiente pra bater de frente.
Como você vê a importância do Coletivo de amigos e familiares em Foz do Iguaçu?
Eu tenho proximidade com o coletivo, tenho fomentado o coletivo, deixado que as pessoas se coloquem, e eu fico muito feliz porque conseguir ter pelo menos três pessoas de Foz do Iguaçu aqui com a gente é um ganho. Eu queria que houvesse pessoas de Londrina, Maringá... Mas acho que é importante para essa luta que os familiares se organizem através de coletivos, e quando a gente fala coletivo, não precisa ser questão de burocracia, um CNPJ, não; mas gente que quer se juntar porque percebe o sofrimento inútil que o sistema carcerário proporciona e é isso: a universidade e a defensoria fazendo o tem que fazer, juntando forças com os familiares, para eles também saberem que isso existe.
Quer dizer, a gente sempre fala que as instituições estão falidas, mas a gente consegue criar instituições, participar das instituições do modo que elas possam nos servir. Como dizem que é o estado democrático de direito, então acho que é importantíssimo que os familiares, e não só eles, mas também qualquer pessoa que se indigna com isso precisa se mobilizar e precisa se envolver.
Um dos problemas que eu vejo, e não quero ser polêmico ou divagar muito, mas um dos problemas da ideia de lugar de fala é este: ao invés de mobilizar pessoas, desmobiliza. “Eu não tenho lugar de fala nisso, eu não posso participar”; a pessoa se anula e só fica no mundo dela, com os problemas subjetivos dela. A gente precisa não roubar os problema de ninguém, mas perceber as dores do outro como dores nossas.
Sempre penso nisso como uma questão de solidariedade, porque você pode não estar sendo afetado diretamente por aquilo, mas, indiretamente, é um problema comum para todos nós. Você pode se solidarizar com a dor da pessoa que é diferente, pois, de uma forma ou de outra, todos nós estamos passando por alguma coisa, seja enquanto mulheres, enquanto pobres, enquanto homens, enquanto pessoas negras… sempre tem algo. Recentemente a pastoral lançou o relatório Por um mundo sem cárceres: a urgência do desencarceramento. O que pode nos compartilhar sobre ele?
O cárcere não é um mundo a parte do nosso, não existe isso de mundo do crime, isso de mundo das prisões não existe. É o mesmo mundo da gente aqui.
Essa publicação coletiva da Pastoral Carcerária trata disso que insistimos: não basta falar de abolicionismo, é preciso reencantar o nosso imaginário. Não tem a ver com super-herói ou literatura fantástica, não. É possível, várias práticas hoje demonstram como a polícia e o encarceramento são supérfluos.
O texto que eu escrevi nessa publicação fala de como uma comunidade destruiu uma prisão — destruiu com as mãos, mesmo, marretada, quebrou tudo. Em termos práticos, nós não precisamos dessa... “violência rebelde”. É possível tornar essas instituições obsoletas, como diz o texto da Angela Davis. O que pode ter servido para outras gerações, para a nossa, não serve mais. Precisamos de outra estrutura, outro meio, outra mediação, porque o que temos está levando a vida de muita gente embora. Essa publicação traz um pouco desse movimento de mostrar que é possível, seja por meio dos dados, do debate acadêmico, na questão política dos movimentos sociais. Nós tentamos não desvincular o debate, a construção e a prática política...
As famílias estão indignadas, e pedimos calma, mas nunca se pede calma ao ministério público, nunca se pede calma à polícia. Comecei a optar pela rebeldia deles, por entendê-los, entendê-las e fazer emergir uma coisa nova dessa rebeldia. É daí que surge a criatividade dos movimentos sociais: da rebeldia, da indignação
O meu mestrado foi sobre encarceramento, a nossa luta, e como a teologia pode contribuir nesse reencantamento do imaginário das pessoas, até porque a maioria dos discursos religiosos endossam o punitivismo, essa forma do sujeito culpado, do sujeito criminoso. Mesmo a Teologia da Libertação, corrente a que eu me filio, não se debruçou sobre o encarceramento; é um movimento recente. Falava-se de tortura, dos presos políticos torturados, muitas músicas foram cantadas nas comunidades falando do encarceramento. Mas pensar que não precisamos da prisão, ninguém pensou.
Eu costumo dizer que a Teoria da Libertação tem por máxima a opção preferencial pelos pobres, e tenho pensado na opção preferencial pela rebeldia dos pobres.
Às vezes, os estudiosos, agentes pastorais, ou até nós, quando alcançamos um cargo de relevância na sociedade civil, nós nos colocamos como mediadores de conflitos. As famílias estão indignadas, e pedimos calma, mas nunca se pede calma ao ministério público, nunca se pede calma à polícia. Comecei a optar pela rebeldia deles, por entendê-los, entendê-las e fazer emergir uma coisa nova dessa rebeldia. É daí que surge a criatividade dos movimentos sociais: da rebeldia, da indignação.
entrevista com Márcia Tillmann merendeira, integrante do Coletivo de Familiares e Amigos de Pessoas Presas de Foz do Iguaçu e Região
Qual a sua relação com o cárcere e com a Frente Pelo Desencarceramento?
Eu também fui presa. Sou egressa, e hoje, visito o meu esposo, que é preso já há 11 anos. A Frente, eu conheci através de uma colega minha, que é egressa também. Foi bem na época da pandemia. Em Foz, nós sofríamos muitas dificuldades, sem notícia dos familiares, sem saber de nada. Não tinha visita virtual, não tinha visita presencial, não tinha nada. Uma colega minha conhecia o pessoal da Frente de Curitiba, já era uma das articuladoras, e me colocou junto no grupo. Eles foram nos ajudando a conseguir a visita virtual, a conseguir notícias dos familiares. Também apoiam muito quando tem algum abuso de autoridade, agressão... Eles dão as diretrizes certas, mostram onde buscar ajuda.
Qual é a importância da articulação do coletivo de amigos e familiares de pessoas presas em Foz do Iguaçu?
Quando a gente começou foi muito importante, porque a gente se uniu bastante. Todas as famílias que estavam ali no grupo do coletivo de familiares, nós começamos a ir atrás e lutar pelos nossos direitos. Então, conseguimos reuniões onde foi colocado o próprio diretor junto com a gente, para nos dar uma explicação. Depois ele fugiu.
Depois a gente tentou outra reunião com ele novamente, mas não conseguimos. Mas o coletivo é bom, já que somos familiares também, porque sempre tem aquela pessoa que não sabe a roupa que entra, o calçado que entra, o dia da visita, porque a informação por parte da penitenciária, também, é a mesma coisa das cartas, é só uma assistente social para lidar com tudo.
Então, muitas vezes ela supre toda a família ali, toda a demanda que tem. Aí, somos nós familiares que passamos as diretrizes certas do dia da visita, o que entra na sacola, o que não entra, a roupa pra entrar no dia da visita. É tudo a gente que vai conversando uma com a outra, porque sempre tem uma que vai atrás e consegue a informação e repassa, tudo isso através do coletivo.
A gente tem muito apoio ali. Que nem no meu celular, são muitos áudios de mães desesperadas porque o filho está doente. Teve uma senhora, Dona Madalena, o filho dela está com tuberculose. Então ela está sempre mandando mensagem pra nós, pedindo ajuda. Mães que não conseguem notícia, daí a gente vai conversando até conseguir saber onde é que está o filho dela. Às vezes nós mesmas mandamos email para marcar a visita de senhoras que não conseguem, que fazem um ano que não vêem as famílias.
É tudo a gente que vai conversando uma com a outra, porque sempre tem uma que vai atrás e consegue a informação e repassa, tudo isso através do coletivo.
Sempre uma chega na outra e pede ajuda, daí elas mandam chegar em nós e a gente já coloca nos grupos, e assim vai indo. Tipo, uma pessoa chega em você pede ajuda, que seja, às vezes você não sabe responder você já chega em mim e pede para pôr no grupo. Daí a gente coloca e ali ela tira as dúvidas dela.
Como o encarceramento afeta a pessoa privada de liberdade? E os familiares?
Eu sempre falo que o familiar sofre, até mais que o preso. Quando você sabe que um familiar está apanhando, que está sem comer, que está no isola [no isolamento], você quer fazer alguma coisa e não pode, é impossibilitada de fazer alguma coisa. E lá dentro também, é bem complicado.
Eu sempre falo que o familiar sofre, até mais que o preso. Quando você sabe que um familiar está apanhando, que está sem comer, que está no isola, você quer fazer alguma coisa e não pode
A mídia prega que o preso tem estudo, que o preso tem trabalho. O preso não tem estudo, o preso não tem trabalho. Tem algumas vagas, mas são muito poucas, para a quantidade de presos. Tinha que ter mais trabalho. Tinha que ter alguma coisa para ressocializar. Como eu comentei hoje: você sai de lá cheio de ódio. Ou você é muito forte da cabeça e foca no que você quer, em mudar de vida, ou…
Sempre falam: “Acabou de sair e já voltou? Gostou”. Não é que gostou… Se começarem a estudar realmente sobre a prisão, vão ver que muitos são viciados em droga, que não tinham que estar na cadeia, e sim, em clínica de reabilitação. Mas onde é que tem, no Paraná? Mandam para a cadeia. E na cadeia, na verdade, você jamais vai parar com a droga...
Depois de sair da cadeia, eu tive uma audiência com o juiz, e falei para ele: “Quer saber onde eu comecei a fumar meu primeiro cigarro? Na cadeia. Você quer saber onde eu cheirei minha primeira bucha de pó? Na cadeia. Você quer saber onde eu fumei minha primeira maconha? Na cadeia”. Ele falou: “Como? Como chegava?”, e eu respondi: “pergunta para os seus funcionários” – porque, para mim, são funcionários dele. “Pergunta, porque vocês alegam que é o familiar que leva quando o familiar chega a ser revirado do avesso. Quem tem livre acesso?”
Por que as cartas dos privados de liberdade não chegam para os familiares? Depende do que as pessoas escrevem?
Não, porque todos os presos sabem mais ou menos o que podem escrever, e a família também. A gente escreve como está a família, o que você está fazendo. Eu sou uma que escrevo mais é declaração de amor, eu sou romântica. O meu marido escreve mais desabafando sobre o que está acontecendo ali dentro, com ele, mas sempre cuidando das palavras que ele coloca. Eu entendo mais ou menos o que ele escreve, mas é sempre contando o que acontece lá dentro, como é o dia a dia dele, como ele está. Mas, no caso, ele jamais pode colocar numa carta que sofreu uma agressão, porque se ele colocar, essa carta não sai pra fora e tem retaliação.
entrevista com Raissa Melo jornalista, militante da Frente pelo Desencarceramento do Paraná
Qual a sua relação com o cárcere e a frente pelo desencarceramento?
Eu sou ex-encarcerada, fui presa em 2010 e saí em 2012 do regime fechado, em semi-liberdade, usando tornozeleira eletrônica. Tirei a tornozeleira em 2014. Conheci a Frente pelo Desencarceramento em 2019, através das redes sociais.
Primeiro, conheci a Agenda pelo Desencarceramento. Fui procurar alguma iniciativa no Paraná e acabei caindo na Frente. Conheci muitos familiares, mas eram poucos sobreviventes do cárcere, ali. Para mim, foi muito legal conhecer a Frente, porque, antes, eu fiquei um tempo querendo esquecer, ser uma nova Raissa. Só que não foi assim.
Fica uma marca, e tinha uma lacuna. Como é que eu ia explicar certos momentos da minha vida? Às vezes, eu falava que fazia intercâmbio, que estava internada, em depressão... Inventava umas desculpas assim. Mentir é muito difícil, porque você tem que lembrar da mentira, ou desconversar. Muitas coisas assim me incomodavam. Acho que é legal contar também que eu fiz uma faculdade particular, a PUC, com a tornozeleira eletrônica. Era uma coisa diferenciada, na PUC.
O pessoal olhava torto?
Olhava torto. Eu tive dois professores que fizeram um abaixo-assinado para não me dar aula. Doeu muito, eles se sentiam em perigo comigo. Imagina: uma pessoa que usava uma tornozeleira, que, no primeiro ano da PUC, voltava para Piraquara, dormia no presídio, entrava escoltada e saía escoltada; como uma pessoa dessa pode ser perigosa? Na época, eu era muito magrinha, andava encolhidinha, não querendo chamar atenção, e até com uma depressão, como uma dificuldade, meio querendo morrer ali, mal falando.
Foi uma época muito pesada, porque eu me sentia muito culpada. Eu tive o privilégio de ser uma das contempladas pelo projeto da PUC, mas conhecia muitas mulheres que, na minha cabeça, tinham um merecimento maior do que o meu. Pensava: “Será que eu não estou ocupando o espaço de alguém? Será que eu mereço isso?”, e o cárcere é assim: “Você fez, é culpada, está pagando e é pouco. Você tem que agradecer, porque poderia ser pior”. Era muito pesado.
Hoje, eu dou risada, pensando no drama; eu me sentia culpada porque respirava demais, ocupava ar demais do mundo. E eu sempre tive essa tosse antes do cárcere, mas como lá eu tive tuberculose, piorou. Por mais que fosse a função dele, eu pensava no agente penitenciário parado na frente da PUC, esperando eu terminar a aula, e eu atrapalhando a vida desse cara. Eu me sentia realmente um peso para a sociedade. Na PUC, isso se repetia muito.
Na época, eu só conhecia dois tipos de testemunho: testemunho de igreja: “Meu Deus, eu sobrevivi e agora sou luz, sou do bem e criei uma ONG”; e o de muita revolta, de muita dor. Conhecia poucas mulheres sobreviventes do cárcere, tinha muitos amigos homens, que contam daquela dor, daquela raiva do sistema. Não estou dizendo que não é justo, mas eu não me identificava com nenhum dos dois. E ali, na Frente, e pela Agenda, pelos pontos, eu me espantei: “A minha vida teria sido muito melhor… É isso que eu quero fazer”. E fui estudar segurança pública.
Como são as relações entre as pessoas que estão privadas de liberdade? Na oficina de mulheres muitas falam que a relação de afeto, que não tiveram na vida nem na infância, elas encontraram ali; uma questão de irmandade. Mas também, claro, tem as disputas, os medos, as raivas.
Cara, pra mim foi muito difícil, porque eu vim de uma família em que tive tudo isso. Então assim, o primeiro momento foi de uma ausência, do tipo, “cadê minha mãe? cadê minha avó? cadê minhas tias? pra quem que eu vou correr?”. Eu tinha na minha mente todos os estereótipos possíveis de mulheres no cárcere, assim: “meu deus, elas vão me matar”. Mas eu fui bem recebida, na medida do possível, assim, porque eu cheguei encolhida, chorando a noite inteira e veio uma mulher e olhou assim pra mim: “Quantos anos você tem flor?”, “eu tenho 19 anos”, “o que você tá fazendo aqui?”, “tô condenada [disse, chorando]”. Eu com medo de dizer, porque com todos os estereótipos negativos… o meu imaginário do cárcere vinha de novelas, de filmes e de professores também que ameaçavam, "aí, se você reprovar vai acabar na cadeia”.
Eu chorei a noite inteira, mas já veio uma senhora de 58 anos falando que ela não sabia o que eu tinha feito e que aqui a gente já tinha sido julgada. Ela falou “se você chorar todo dia vai ser mais difícil, você precisa dormir, porque amanhã também não vai ser fácil". Então vai se criando essas relações. E uma coisa que pegou foi que eu cheguei com 19 anos em Piraquara II e as primeiras celas, as primeiras convivências eram mulheres muito mais velhas do que eu, acho que tinham 40, 50 [anos]. Até a primeira vez que eu fui pro pátio, que daí eu fui ver pessoas mais novas.
Mas eu sempre ficava “meu deus, eu dei errado muito cedo né, porque elas deram errado depois”. Hoje eu falo com muito humor sobre isso porque teve muito psicólogo, muito acolhimento. Mas assim, a relação também era difícil; mas depois se tornou assim, do tipo, dividir sonhos de quando a gente sair, dividir coisas, trocar a experiência, porque eram pessoas de realidade muito diferentes, idades, eram pessoas já mães. Inclusive, eu entendi muito a minha mãe convivendo com outras mães sabe, que tipo, eu ouvia muito isso, “você tem a idade da minha filha”. Nossa, eu ouvi muito “você é parecida fisicamente com a minha filha”.
Porque elas se apegam, imagina, devem te colocar como a própria filha.
Tinha uma mulher, inclusive, que estava presa lá há 20 anos e deixou uma filha de 4 anos [fora do cárcere]. Foi uma das conversas que me marcou, ela falava: “Mas o que você gostava de fazer?”, eu falei “eu saia com as minhas amigas, eu bebia na frente de casa”, “que música você gosta?”. Ela imaginava como a filha dela estaria, sabe. E aí assim, os pais dela eram do litoral, a mãe dela foi muito dura, do tipo “não vou submeter tua criança a essa visita, crescer e vendo o cárcere”. E ela nunca tinha visto a filha dela desde os 4 anos.
Mariana era o nome da filha dela, e ela dizia "ela tinha os cabelos cacheados igual o seu, ela era morena igual você”, e falava assim “a minha filha também falava com todo mundo, não calava a boca, igual você”. E foi muito triste, assim, porque pouco depois que eu saí, quase um ano depois, eu fui para Paranaguá, procurei a família dela e eu não achei. Eu procurei muito, porque eu queria conhecer a Mariana e dizer “olha, sua mãe pensou em você todos esses 20 anos. Sua mãe trançava meu cabelo na cadeia para eu ficar arrumadinha e bonitinha”. Eu queria dizer, sei lá, pra ela escrever uma carta, ou, se ela não se sentisse à vontade, para saber que tipo, a mãe dela foi mãe mesmo ausente nesses 20 anos. Mas eu não encontre a família.
Como o encarceramento afeta a pessoa privada de liberdade e, também, os familiares? No sentido emocional, econômico.
Acho que de todas as maneiras... É um estigma, tanto para a pessoa, quanto para o familiar...
Eu achava que ia ficar para sempre trabalhando no shopping, ou em praça de alimentação, e ouvindo que tinha dado sorte, porque pelo menos estava empregada. É um alto nível de exploração, e você sempre tem que agradecer. Isso foi uma coisa que pesou.
Houve uma vez, também, em que as pessoas sabiam, no meio em que eu estava, o que tinha acontecido. Eram mulheres de um movimento e a gente estava num bar, organizando o 8 de março. Quando saímos do bar, o carro de uma delas não estava ali. Ela perguntou se eu sabia de alguma coisa.
Depois, chamou a polícia, fez B.O., mas me ligava muito, perguntando: “Seus amigos não sabem de nada?” E na faculdade, a casa de um amigo foi assaltada, e ele também ficava me perguntando onde é que estariam vendendo as coisas dele. Como se eu soubesse, como se eu fosse a rainha do crime...
Em relacionamentos, também. Teve um menino que foi péssimo… Ele ficava com deus e o mundo, mas ele era mais cuidadoso com as outras meninas. Eu queria que ele me levasse até o ponto de ônibus, e ele falou que eu não precisava. Era como se ele dissesse: “Ah, você já passou por isso, você não precisa, você é forte”. Não, eu mereço afeto...
Além disso, tem todo o fetiche na dor. Uma vez, um cara me perguntou, com uma frieza: “Você foi estuprada na cadeia?”. Não fui, mas, e se eu tivesse sido? Ele não teve cuidado nenhum. Ele deu sorte que não foi uma experiência que eu vivi. E, principalmente, no meio acadêmico... Eu tive o privilégio de ser uma egressa que frequenta o meio acadêmico, mas virei objeto de estudo, assim, de um jeito que fazia pensar: “Meu deus, acho que nem com animal fazem isso”.
A partir da sua experiência, da sua trajetória, o que você acha que poderia ser mudado no sistema prisional hoje?
Acho que, primeiro: o que leva à privação de liberdade? Pensar nisso já ia desafogar todo o sistema, de uma forma. Hoje se sabe que os presídios são lotados, principalmente, de pessoas que cometeram crimes contra o patrimônio. E, quando se está encarcerando, nunca é só uma pessoa, mas toda uma família.
A progressão de pena também é difícil; as medidas para redução são dificílimas. Eu conheci mães que entraram lá grávidas, e a melhor progressão possível significava sair quando as crianças tivessem cinco, seis anos.
A convivência das pessoas de fora do cárcere com quem está no cárcere, mais projetos, e acessibilidade...Para as pessoas realmente poderem ver que, lá dentro, são pessoas, e pessoas muito mais capazes de contribuir também.
Pensa no tempo que as pessoas ficam trancafiadas lá, sem fazer nada, só cultivando a própria dor. Elas poderiam ter acesso, porque essas pessoas, uma hora, vão voltar para a sociedade.
Pensa no tempo que as pessoas ficam trancafiadas lá, sem fazer nada, só cultivando a própria dor. Essas pessoas, uma hora, vão voltar para a sociedade
Tem uma fábrica de bolas, aqui... As mulheres recebem menos da metade de um terço do salário mínimo. É muita exploração, são pessoas lá se matando para, quando puderem sair, ter o dinheiro de voltar para casa. Ninguém faz fortuna na cadeia.
E é aí que acontece muito reingresso, porque, sem projeto, essas pessoas saem e não têm perspectiva de futuro, passa poucos meses estão de volta, não é?
É, até porque a casa delas, a rotina delas, a vida delas passa a ser ligada àquela instituição. Quando eu saí, teve uma senhora que segurou a minha mão e disse: “Eu vi ao longo dos anos que você passou aqui que você tem mãe, mas se alguma coisa acontecer, sabe que você tem outra família, aqui, outra casa”. Isso é muito pesado, não é bonito.
Eu fui muito preparada, principalmente pelas pessoas mais velhas de lá, para não me iludir, porque, mesmo com diploma, quem passou por lá tende a voltar. Elas me preparavam: “A gente já viu mulher que saiu do país e voltou pra cá”. É um medo que até hoje eu vejo.
Outra coisa é que a comida é muito ruim. A comida fede.
No Paraná é terceirizado. Vêm as marmitas, não tem tempo de refrigerar, fica verde — o arroz verde de Piraquara. É um rito de passagem: as pessoas batem palma para você engolir o arroz verde pela primeira vez.
E eu queria dizer que tem pequenas lutas que a gente precisa encantar, porque você falou muito de educação, de mudanças muito grandes, mas... Ah, gente, precisa deixar entrar um chocolatinho lá dentro. Essas pequenas modificações são importantes.
Eu sei que é difícil, tem a segurança. Mas os lugares não têm espelho, você vai perdendo autoimagem, você quer se ver.
As mulheres são infantilizadas: às vezes, vinham umas pessoas fazer recorta-e-cola com a gente, e não no sentido de colagem, de expressão. Os próprios guardas, as próprias pessoas religiosas, às vezes, vão achando que é uma grande creche. Não, a gente tem história.
As famílias, também, podiam ter o cuidado de não julgar. É preciso lembrar que as mulheres encarceradas são plurais: tem gente de tudo quanto é cor, tudo quanto é país, religiões. Não são objeto de estudo. Lembrem a elas que elas são humanas, porque, lá, fazem de tudo para a gente esquecer.

Layra Rodrigues | BRASIL |
Graduada em Ciência Política e Sociologia, com pesquisa na área de relações sociais de gênero, raça e classe e direitos humanos. Atualmente, trabalha como Secretária Escolar.
layrafab@gmail.com
Jhey Rodrigues | BRASIL |
Estudante de Mediação Cultural - Artes e Letras, na Unila. Atua como agitadora cultural em Foz do Iguaçú, desde 2019. É uma das idealizadoras do Slam de la Frontera e voluntária na biblioteca comunitária Cidade Nova Informa.

Lucas Duarte | BRASIL |

Márcia Tillmann | BRASIL |